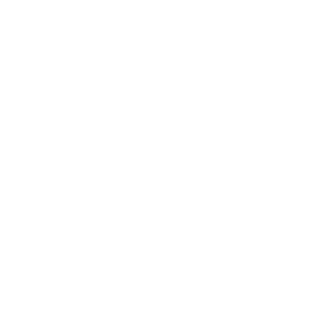Partirei nesta apresentação de uma provocação colocada por Adauto Novaes: “Ora, no mundo contemporâneo – em mutação – o ver e os outros sentidos se tornaram problema.” É do interior deste mundo em mutação que os sentidos se mostram um problema, cabendo à imaginação vir auxiliá-los para que não se percam no sem sentido. Desde Kant, a arte (e o juízo estético) vem sendo um lugar de experimentação entre o que se vê e o que sabe, entre o que se pode ver sem um saber prévio determinante, é o lugar em que se exercita uma percepção selvagem tendo em vista a impotência das formas instituídas de conhecimento.
Como pensar esta percepção selvagem em um mundo agenciado por uma série de tecnologias de produção imagética, em que a experiência da arte vem constantemente mediada pelas câmeras dos celulares? Como os sentidos e a imaginação lidam com a aceleração e a dispersão da atenção? Citando Valéry, através de Adauto Novaes, pergunto-me: “Eis a grande questão: poderá o homem se adaptar àquilo que o homem fez?” Como desdobrar o que se faz em novas possibilidades de ver antes inimagináveis? Produzir novas maneiras de ver implica novas montagens entre o que se vê e o que não se sabe e novas formas de exposição.
O que pretendo nesta palestra é investigar os modos pelos quais a arte, mais especificamente o gesto curatorial, vem tentando repensar formas expositivas mais atinadas ao modo pelo qual as novas tecnologias transtornaram nossos regimes de percepção. Tomo este gesto como o ato de montagem que põe as obras em relação na busca de constelações imaginárias capazes de sugerir/produzir modos de ver e pensar heterogêneos. O ponto de partida será o museu imaginário criado por André Malraux em meados do século XX, que se propôs a reconfigurar o modo como as imagens interagem e se ressignificam no tempo e no espaço. Seu ponto de partida foi o efeito produzido pela reprodução fotográfica nas formas de apreensão das artes visuais. Minha aposta é de que a poética relacional que alimenta as associações imagético-formais do museu imaginário é mais relevante para se pensar o gesto curatorial do que para a criação de uma nova metodologia para a história da arte.
Uma questão que começa a surgir junto ao procedimento do “museu imaginário” é a tendência à pseudomorfose, ou seja, a aproximação arbitrária e acrítica de detalhes ligados à superfície das imagens, retirando delas suas especificidades culturais e sugerindo uma universalidade formal sem historicidade e sem mundo próprio. No contexto da produção e disseminação digital de imagens esse perigo fica potencializado, cabendo uma reflexão sobre como trabalhar no intervalo entre a captura tecnológica e as novas potencialidades dos seus usos.
Os riscos são crescentes no interior do espaço institucionalizado e espetacularizado da arte contemporânea. A visita aos museus se faz necessariamente mediada por informações e tecnologias que tendem a dirigir o olhar e a constranger o trabalho da experiência. O que se vê com tanta mediação? Há espaço para o espanto e para a produção de formas heterogêneas de ver? Como lidar com a diversidade simbólica e cultural que habita os museus contemporâneos sem estetizar as diferenças? Como compor tempos e mundos distintos?
Ciente de todos esses riscos, interessa-me ver naquilo que Malraux denominou de “confrontação de metamorfoses” do museu imaginário um antecedente ao que James Clifford viria a denominar de “zonas de contato”, tão afirmativas para se pensar a simbiose e o atrito entre contextos culturais no interior dos museus (de etnografia e de arte contemporânea). Como enfrentar os impasses do mundo da arte apostando na imaginação produtiva em busca de linhas de fuga parciais no seio da homogeneização cultural e da aceleração tecnológica.