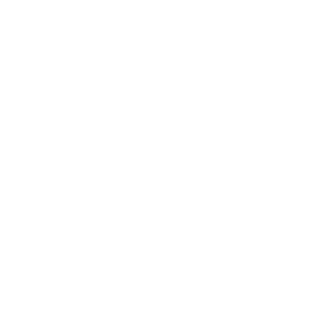O título evoca temas que pretendo explorar, em busca da compreensão de aspectos talvez menos estudados do neofascismo -mas relevantes para combatê-lo. Temas que levam a refletir sobre o lugar da imaginação em paradigmas da teoria da justiça e da política, dos quais ainda somos tributários, porque, pelo avesso ou por mediações, ainda nos interpelam. Inescapáveis, nesse percurso, são Hobbes e seu (nosso) Leviatã.
Para investigar seu pensamento político, destinado a legitimar o poder absolutista no século XVII -que forneceria elementos decisivos para a formulação contratualista liberal subsequente-, sugiro o abandono da leitura predominante, segundo a qual o Estado todo-poderoso seria necessário e legítimo para corrigir a natureza humana, irremediavelmente maligna ou violenta, refratária à solidariedade e à cooperação. A tese hobbesiana é bem mais interessante. O problema ao qual o absolutismo responde não é, por assim dizer, antropológico, mas epistemológico (porque, em sua obra, a antropologia decorre de constrangimentos -digamos, para simplificar- céticos): não sendo possível conhecer o outro, uma vez que só se conhece por meio da experiência empírica, sensível, direta, resta a leitura de si, em perspectiva racional de geômetra (não confissional, moral, subjetivizante). Construído o indivíduo-ator como o modelo antropológico natural-universal, a partir da auto-investigação sobre corpo e mente, impulsos e motivações, as faculdades e vias materiais de percepcão (não do auto-exame da consciência teologicamente fundamentada), Hobbes põe em marcha o experimento mental que marcará a imaginação política moderna eurocêntrica, escrevendo a saga épica e trágica do “estado de natureza”, uma epopéia sociológica minimalista que, dinamizada pela supremacia da expectativa (as profecias se autorrealizam), suprime o tempo (sobrepondo arché e telos) e condena a espécie humana ao eterno retorno, ante o esgotamento de todas as histórias possíveis (ou antes de submetê-la -por ocioso ou essencialmente redundante- a qualquer uma de suas versões). As paisagens mentais disparadas por sua imaginação (fulgurante e seca), prefigurando o horror como apanágio da razão, mobilizaram a posteridade eurocêntrica -de Locke, Rousseau, Hume, Kant, Bentham e Marx, a Freud, Bakunin, Hayek, Nash, Nozick e Rawls.
O estado de natureza não é uma hipótese sobre o passado, é um argumento contrafactual sobre o presente, ou melhor, sobre as condições de possibilidade da ordem social, as quais, pressupostas, exerceriam dupla função: no plano filosófico (fornecendo princípio ordenador à Justiça e repertório ao discurso político), sustentariam a atribuição de legitimidade a determinado arranjo (assimétrico e arbitrário) de poder; no plano prático (político e comportamental), imaginadas em comum pelos cidadãos (como sentido compartilhado, senso-comum, repertório dramatúrgico e imagético, código simbólico, ou vocabulário e gramática de renovada mas conservadora cultura popular), induziriam à obediência.
Até aí, talvez ainda não se vislumbre a atualidade da invenção ficcional de Hobbes, senão como relíquia ancestral, no máximo lhe conferindo o privilégio duvidoso de figurar como o mito de origem do Estado moderno e de suas (de)formações utilitárias, que as sociedades unidimensionais capitalistas conduziriam ao paroxismo. Mas há um ponto referido en passant que merece destaque especial -e que, há cerca de 40 anos, desabou sobre mim como uma epifania, se aqui posso me permitir uma pitada do anedótico biográfico. A vida coletiva no estado de natureza (esta imaginária sociedade paradoxalmente pré-social) reduz-se aos (des)encontros entre “homens” que são o modelo antropológico hipostasiado, a reprodução multitudinária do mesmo, réplicas (miméticas) de uma arquitetura formal. Trata-se, portanto, de uma espantosa especularidade em cujo ambiente paranóico a máquina antropogênica funciona para se auto-destruir e por fazê-lo, enquanto cumpre o destino inexorável, destino inscrito em sua programação, determinado por prescrição (permitam-me o abuso intempestivo:) algorítmica. A “inteligência artificial” hobbesiana, que confere expressão ontológica à unidade e à univocidade, na extensão do experimento mental em que é submetida ao teste da sociabilidade, contempla no espelho sua auto-imagem. Não suportando a emergência do Outro (sem mediações que atuem como objetos transicionais -conceito de Winnicott, relido por Alexandre Nodari), deflagra-se uma dinâmica (pura imanência) de aniquilação da alteridade, que é também, e sempre, auto-destruição. Não há lugar para a linguagem nem espaço para um sujeito (todo sujeito é lacunar) que a habite: ao descobrir-se outro do outro, a instrução (o protocolo da razão, servindo à paixão pela vida, experimentada pelo avesso: o medo da morte) manda aniquilar. O modelo antropológico hobbesiano é incompatível com a abertura à obliquação -ou à equivocação (como diriam Nodari, Mauro Almeida e Eduardo Viveiros de Castro). A rigor, sequer se pode afirmar que o modelo antropológico montado por especulação especular corresponda a um sujeito, ou que o homem genérico alcance subjetivação -daí o modo hiper-determinado desse universo asfixiante. Ocioso acrescentar que, como sabemos, a novela termina com a guerra de todos contra todos.
Ainda mais interessante (e perverso) é observar que a sociedade experimental imaginada no estado de natureza é mais que a projeção de uma antropologia auto-referida (narcísica, solipsista) -fundada na tese de que, não sendo viável conhecer o outro, cumpre imaginar o que ele é, como funciona, tarefa que se realiza concebendo-o como um símile de si mesmo: todos os personagens imersos no jogo se percebem e percebem os demais do mesmo modo, como extensões projetivas de si mesmos. Portanto, trata-se de espelho que se reflete em espelhos e que reflete espelhos, os quais se espelham indefinidamente, numa regrassão infinita. Cada personagem confirmará a previsão (prescrição) inscrita no modelo (no algoritmo), tautologicamente, e escreverá uma só e mesma trama -por isso “Pierre Ménard, autor do Quixote” foi a epígrafe de minha pesquisa, em 1992. Unidade é o nome da prisão; especularidade, do carcereiro. Em síntese, o mundo especulativo do estado de natureza como expansão especular do eu, concebido pelo geômetra solipsista, produz a redução da pluralidade de vozes, personagens e perspectivas à “simetria substitutiva” (nas palavras de Paul De Man): tal redução ontológica representa a contrafação do diálogo (do social) e da literatura, como experimento de alteração.
Segundo Fredrick Jameson, a ficção científica costuma trabalhar com modalidades de “atenuação ontológica”. No estado de natureza não é diferente. O que nos leva a pensar que talvez haja benefícios em propor aproximações (e atritos) entre distintas elaborações de uma problemática que, sendo comum, entretanto se diferencia na medida em que é tratada em diferentes experiências. Refiro-me ao que talvez possa ser denominado “redução ontológica”, evocada e acionada em linguagens específicas: da performance ritual (em rituais de passagem, por exemplo) à invenção filosófica (na arquitetura conceitual da moralidade kantiana, por exemplo), dos relatos metamórficos das lutas populares (de Carpentier a Ednaldo Padilha) e da literatura transgressora (de Maria Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Carola Saavedra e China Miéville) à incidência política neofascista no imaginário social, quando assume feições reativas devastadoras. Em todos os casos, põem-se em tela de juízo (em termos experienciais e especulativos -distinção em si mesma questionável) processos metamórficos, pactos com o Outro e a gênese da ordem social.
No registro fascista, o sentido das ficcionalizações (ideológicas) em torno dos três tópicos é defensivo, restaurador ou regressivo, singularmente avesso à abertura e à instabilidade, fornecendo aos adeptos uma espécie de prótese solipsista (caixa -paranóica- de ecos da univocidade, cápsulas para viagens especulares, plataformas ensimesmadoras), que funcionam como o negativo de objetos potencialmente transicionais. Por analogia, imagine-se um batalhão militar que blinda a identidade sem brechas, forjada na imaginária guerra total e infinita: a arma é a prótese da virilidade sem falhas e o elo (a cadeia) de relações inegociáveis, que não admitem inconstância. Arma é índice (e fetiche) de uma coletividade fechada (submissão ou exclusão, hierarquia e disciplina) cuja passagem ao exterior só pode ser confronto letal ou acolhimento vertical da ordem, ordem que é palavra plena, mineral, refratária à interpretação e à interlocução: o pronto emprego. A tropa fala, canta, narra seus feitos, o canto chega aos ouvidos dos patriotas distantes do front. O sentido da guerra e mesmo de sua iminência manterá alerta, num misto de orgulho e temor, os membros da rede que se tece pelo valor da participação. Todos se sentem incluídos e nenhum evento os distrairá da concentração ou porá em xeque a coesão discursiva e comunitária.
Nesse registro, para o qual concorrem concepções religiosas e ideológicas relativamente variáveis, sempre a serviço da exploração de classe, do racismo e do colonialismo, gestando amálgamas político-econômicos historicamente cambiantes, o vetor axial talvez seja o patriarcalismo, radicalmente ameaçado pela separação entre corpo, gênero e sexualidade, operada por movimentos emancipatórios. A fratura da indissociabilidade “essencial, bíblica, institucional e natural”, origem do “homem” e da “mulher”, da “família”, é endereçada pela interpelação neofascista, cuja promessa elementar é a restauração da unidade perdida -a harmonização tardia da máscara idealizada. A promessa, além de não poder ser cumprida, carrega consigo a maldição hobbesiana: o combate ao Estado (ao sistema de leis e normas e regras e direitos e limites e pactos e instituições, ao interminável falatório da política, da arte, das universidades, dos movimentos sociais, dos seres), esse embate (contra a incompletude e a instabilidade e a equivocidade e a finitude), essa hostilidade ao desejo, “ao que na vida é porosidade e comunicação”, antecipa como profecia auto-realizável a terra devastada, o mundo assombroso da especularidade. O colapso ambiental, nesse sentido, seria o último e o primeiro dos espelhos, posto que a ordem não importa.