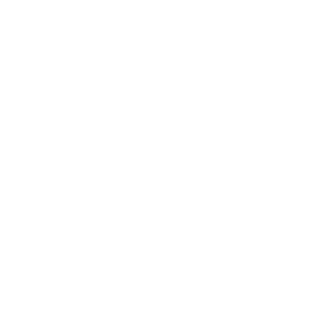Com o conceito de barbárie civilizada, Nietzsche aprofundou seu diagnóstico da consciência moderna como sendo aquela de uma época laboriosa, que nos proíbe dedicar à arte as melhores horas de nossas vidas, ainda que esta arte seja a maior e mais digna. O primado conferido ao quantitativo e ao rentável exige uma equação cerrada entre operatividade e utilização integral do tempo, por conseguinte, a eliminação de todo resto, pelo controle do imaginário pessoal e sócio-político. Ora, um dos efeitos desse controle é o estreitamento da própria faculdade de imaginação como potência do espírito. Com a despotencialização da imaginação, abre-se um abismo entre pensar e agir:
a vertiginosa rapidez das operações – transformada em exigência compulsória – suprime o ‘tempo de pensar’. A modernidade cultural e política é a escravidão mental, que se reflete tanto na alma quanto no íntimo dos corpos. Essa selvageria se denuncia sobretudo na relação da arte com nossas formas atuais de vida – a devastação e a esterilidade que nos assolam manifesta-se na relação inautêntica, consumista com as obras de arte, cuja fruição exige, antes de tudo, tranquilidade, repouso, sossego e paz.
Semelhante diagnóstico do tempo, nós o encontramos também na obra do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han. Para ele, nosso tempo é marcado pela exigência de hiper-atenção, caracterizada pela dispersão e pela rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos de elaboração mental. É isso que impede a atenção profunda, meditativa, que foi a condição de possibilidade das principais realizações culturais da humanidade. Nesse contexto, Byung-Chul Han também faz questão de recusar o epíteto de apocalíptico para seu livro Bom Entretenimento, quesegundo ele, se situa na contra-corrente da hiper-atenção, e confere decisiva importância às atividades lúdicas, como o jogo e a dança.
“Sob a pressão de ter de trabalhar, hoje nos esquecemos de como se joga. O ócio só serve hoje para descansar do trabalho. Para muitos, o tempo livre não é mais do que um tempo vazio, um horror vacui. Tratamos de matar o tempo com base em entretenimentos fúteis que nos tornam ainda mais estúpidos. O stress, que é cada vez maior, nem sequer torna possível um descanso reparador. Por isso acontece que muita gente adoece justamente durante seu tempo livre. Esta enfermidade se chama leisure sickness, enfermidade do ócio. O ócio se converteu num penoso não fazer nada, em uma insuportável forma vazia do trabalho. Inclusive o jogo foi absorvido hoje pelo trabalho e pelo rendimento. O trabalho se ludifica. Quer dizer, o afã que temos de jogar se colocam a serviço do trabalho, que o explora e tira partido dele. Supondo que ainda reste um entretenimento à margem do trabalho, este se degradou em uma mera desconexão mental, que é qualquer coisa, menos entretenimento. Temos a tarefa de liberar o jogo do trabalho. A sociedade futura será uma sociedade do jogo”.
Será mesmo? Parece, antes, que estamos atravessando um tempo em que esta possibilidade está bloqueada, uma vez que aquilo que Paul Valery denominou coisas inexistentes, a inefável potência do supérfluo, ameaçam nos abandonar, ou estão a ponto de ser tragadas no vórtice de uma imaginação desertificada, Vivemos no tempo de uma positividade hiperbólica, de uma produtividade tóxica, daquilo que Heidegger denominou armação, e que Nietzsche já tinha diagnosticado como um crescimento do deserto: “O deserto cresce: ai daquele que abriga desertos”.
É à vista deste cenário que Heidegger escreve: “o consumo dos entes determina-se pela mobilização em sentido metafísico, onde o homem se faz ‘senhor’ do ‘elementar’. O consumo inclui o uso regulamentado dos entes, que se tornam oportunidade e matéria para a mobilização” . À medida em que esta se intensifica e se auto-assegura incondicionalmente, começa a se tornar perceptível também a perda de toda meta e sentido do processo, a transformação do uso em abuso. O homem contemporâneo se torna, então ‘senhor dos elementos’ – paródia heideggeriana dos progressos inusitados da química em meados do século passado -. Mas o título irônico traz à luz a espantosa paradoxalidade da ‘coisa mesma’. Pois a suprema realização da fantasia de poderio humano, a auto-compreensão do homem como mestre dos entes, a coroa e finalidade da criação – se realiza historicamente como o contrário de si mesma; a saber, como reificação e sujeição ao domínio impessoal e integral (hoje quase inter-galáctico) da tecnologia. A configuração da vida sob a hegemonia técnica moderna é atravessada pela perda de sentido da antiga concepção antropocêntrica e instrumental da tecnologia: o homem tornou-se, por fim, a mais importante matéria prima no processo de produção e desgaste dos entes intra-mundanos. No encontro entre uma humanidade plenamente emancipada e a potência fáustica da tecnociência,
realiza-se também a confluência entre um intelecto abstrato, formal e funcionalista e a configuração mecânica do universo infinito. Esse fenômeno vem à luz, por exemplo, na identificação da mente com o computer cortical do cérebro humano, do pensamento com o processamento algorítmico de informações.
Por essa razão, sentimos necessidade premente de restaurar os valores e princípios fundamentais em que se baseiam nossas mais bem defendidas convicções de fundo: as Ideias, Deus, Liberdade, a Lei moral, a autoridade da Razão, o Progresso, a Felicidade do maior número de pessoas, a Cultura, a ‘Civilização’. No entanto, o que efetivamente vige é o vazio de tais princípios – o abismo do fundamento, a compulsão aos gestos patéticos e o fascínio pela retórica grandiloquente. Na interpretação de Adauto Novaes, “hoje, esse vazio – ‘espaço em branco sem poder legislador’ – é ocupado não pela política mas pela técnica. Não vivemos um momento de declínio, mas uma mutação que afeta de maneira incontornável o imaginário político: onde estão os ideais políticos, as utopias? O incontestável poder de Musk e Zuckerberg – senhores da técnica – é um claro exemplo da ocupação desse vazio. Comentadores políticos chegam a dizer que Trump é um servo do oligopólio digital global das biotechs”.
Esta última frase lança suspeitas sobre o ‘incontestável poder de Musk e Zuckerberg’ como ‘senhores da técnica’. O que dizer de uma tal candidatura à ocupação do vazio para o qual nos impele um imaginário político devastado? Seria algo mais que jogo de cena, efeito de superfície? Estes atores seriam propriamente senhores da técnica? Será que uma tal posição poderia ser ocupada pelo ‘oligopólio digital global das biotechs’? Aliás, como entender uma posição como esta? É possível que o confisco ou sequestro do imaginário possa ser pensado em termos jurídico-políticos de senhorio e titularidade, de soberania e sujeição? Para responder tais perguntas, Nietzsche e Heidegger podem nos oferecer uma contribuição de imensa relevância, pois ambos enfrentaram questionamentos análogos com a impiedosa lucidez de uma inflexível probidade intelectual.
Se podemos pensar que Musk, Zuckerberg e Trump são figuras de liderança (Führung), é preciso pensá-los também, de um ponto de vista metafísico, como servos e funcionários a serviço de uma vontade de poder supra individual, que impera na era da dominação planetária da técnica, e que não se confunde com oligopólios atuais ou virtuais. Vontade de poder da qual eles não são mestres e senhores, mas talvez os lacaios mais dóceis e eficientes no processo de maquinalização (Machenschaft), de mobilização total, ditado pela essência da técnica, de cuja démarche a inteligência artificial constitui uma modalidade de coroamento, pois as IAs podem ser consideradas também (não exclusivamente) como a colonização informático-logística do pensamento, reduzido a processamento de informações e cômputo de bigdata.
A esta forma da vontade de poder corresponde tanto a barbárie civilizada quanto a desertificação da imaginação, o vazio do imaginário político, com a fuga das ‘coisas inexistentes’ e o abandono do espírito. É à reflexão a respeito de tais questões que a comunicação pretende se dedicar.