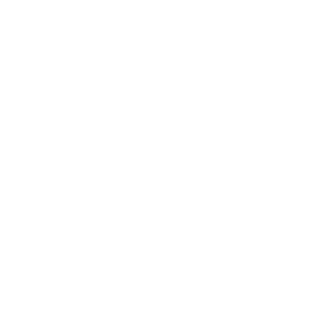O Imaginário, ou o repositório geral a que chamávamos de Imaginário, deixou de ser uma categoria da cultura, ou uma justaposição de narrativas e imagens provenientes de ordenamentos culturais independentes entre si. Deixou de ser também uma colagem viva de construtos da imaginação de cada pessoa, que era capaz de pensar, ou de dialogar com o pensamento. Tempos idos. Agora, se quisermos entender como subsiste o Imaginário, somos desafiados a pensá-lo – nós, que ainda não consideramos o pensamento uma perda de tempo – como a fuligem e os detritos ejetados pelas chaminés da atividade capitalista, ou do ativismo superindustrial. O Imaginário está mais para um amontoado de entulhos despejados incessantemente por linhas de montagem. O substantivo “Imaginário” já não corresponde ao conjunto do que os seres humanos imaginam ou elaboram culturalmente de modo autônomo – é um empacotamento confeccionado pela técnica do qual os seres humanos se valem para usos modulares e descartáveis. O repertório disponível na vastidão do assim chamado Imaginário, como filmes, canções, ritos religiosos, celebrações carnavalescas, eventos esportivos ou passeios turísticos, entre tantas outras modalidades, são invariavelmente itens fabricados ou pré-fabricados. O espaço da imaginação, digamos, individual, vem sendo suprimido.
Isso aconteceu, e aconteceu velozmente, porque o capital mudou de ramo. Ele se aposentou de suas ocupações anteriores, por meio das quais fabricava objetos corpóreos, como frascos de desodorantes, catálogos de exposições de “arte”, bugigangas e barris de combustível fóssil. Entediado de commodities concretas, pesadas, diverte-se com as commodities classificadas alegremente como “imateriais”. O capital se reinventou, como está na moda dizer, e hoje fabrica signos, figurinhas piscantes, fantasias e fantasmas (que precipitam a realização do valor de troca). As mercadorias, sem exceção, inclusive os sacos de soja, deslizam por aí como significantes que se supõem atraentes. O modelo só pode funcionar porque o capitalismo, em vez de interpelar a necessidade, passou a invocar o desejo no sujeito. O Imaginário superindustrial, que pode ser definido como overdose do significante da mercadoria, é sua face com duas caras: de um lado, uma xepa de quinquilharias visuais; de outro lado, um chão de fábrica miserável.
Junto com a imaginação emancipada, o espírito, que seria a luz do pensar, entrou em fenecimento irreversível – e, se não fenecesse, essa ordem de coisas seria inviável. Para provar o meu ponto, retomo a frase de Paul Valéry que Adauto Novaes usou como epígrafe em seu ensaio sobre o ciclo Mutações deste ano, “Constelações imaginárias”. Eis o que escreveu Valéry em “Pequena carta sobre o mito”:
“Nossos espíritos, desocupados, feneceriam se as fábulas, os erros, as abstrações, as crenças e os monstros, as hipóteses e os pretensos problemas da metafísica não povoassem de seres e imagens sem objetos nossas profundezas e nossas trevas naturais.”
Ora, “nossos espíritos” de fato perderam o viço, menos por desocupação e mais por assassinato. Não há mais “fábulas, as abstrações ou pretensos problemas da metafísica” dentro da cabeça ou no horizonte cultural das gentes massacradas pelos fanatismos alçados ao poder a passos acelerados. Não há nada disso à disposição nas prateleiras do consumo. Somos uma civilização soterrada pelos fósseis ressequidos de apelos a um só tempo sensuais e sem vida. Somos um deserto de escombros que piscam feito árvore de Natal.
Eis então que o espírito expira sem tomar novo fôlego. Não é só. Segundo Adauto Novaes, “a imaginação pede respostas infinitas, criação permanente do pensamento”, mas o que foi feito do pensamento? Ele também não está aí. Não há “respostas infinitas” porque não há mais perguntas inauditas. Não há mais um pensamento capaz de “criação permanente” porque não há mais imaginação criadora – só o que nos resta é essa tal de “indústria criativa”.
Em resumo, com a mesma voragem com que se apossou do campo do visível, o Imaginário superindustrial monopolizou o que a mente imagina poder imaginar. Isso significa que as constelações imaginárias não passam de figurações para encobrir o vazio sem imaginação. Elas trazem, embutidas, as relações capitalistas de produção, nem que seja em graus infinitesimais, quase imperceptíveis, mais ou menos como o rastro das moléculas de plástico carimba a água potável da cidade de São Paulo. É líquido e indiscutível. O Imaginário é um cenário numa cidade turística sem nenhum morador.
O fenômeno já era cristalino, para as poucas inteligências que resistiram, pelo menos desde os anos 1960, ou, de mono mais preciso, pelo menos desde 1967, quando Guy Debord lançou seu livro clássico,
“A sociedade do espetáculo”. Na tese 42 dessa obra, Debord anotou:
“O Espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo visível [o mundo que se vê] é o seu mundo.”
“Totalmente”, aqui, quer dizer “totalmente” mesmo. O ser humano, desprovido de espírito, é uma reles mercadoria que emula um desejo pré-fabricado por outra mercadoria. Sua imaginação é a imaginação do seu senhor, qual seja, o capital. Sua imaginação está colonizada, adestrada, sujeitada.
Ao que você, reclamando do meu pessimismo que esfola o ideal do eu, levanta a mão e me pergunta: “Então o pensamento acabou, não existe mais, foi tornado impossível?”. Ao que eu, nesse caso, prestimoso, apresso-me em responder: o pensamento não acabou de todo; ele pode, sim, ocorrer, mas como exceção, apenas como exceção, como um erro no sistema (o “erro” de que falou Valéry), um bug não previsto no programa, um instante incerto em que uma fagulha de crítica escapa à norma e se tece, instável e impermanente. Sim, ainda temos pensamento, mas ele anda ameaçado de extinção. Este Ciclo Mutações, por exemplo. Há pensamento aqui, mas seu espírito rebelado corre perigo.
O pensamento que pensa, quando pensa, só pensa para se saber fugitivo, só pensa para notar que a imaginação imagina como a imaginação do seu senhor – e seu senhor é o capital. A imaginação elogiada por Valéry caiu.
Vejo-me então na contingência de explicar o que significa imaginar se entregando à imaginação do seu senhor. O que me ocorre é uma analogia, nada mais que isso. Podemos dizer que é mais ou menos o que se dá com “o desejo do homem”, que, como ensinou Jacques Lacan, “é o desejo do Outro”. Essa palavra “Outro”, grafada com o “O” maiúsculo, não significa, na linguagem lacaniana, um outro qualquer: não se trata do vizinho, do cunhado, do próximo, do distante ou, ainda, do colega de faculdade. Esse “Outro” é um outro investido de um poder tal que consegue reger o mundo inteiro, de tal sorte que o sujeito que deseja o que esse “Outro” deseja ou, ainda mais profundamente,
o que o “Outro” deseja que ele, pobre sujeito, deseje, é um sujeito neutralizado, um sujeito que não imagine e não pensa.
A imaginação desativada opera mais ou menos da mesma maneira. Como eu avisei, eu fiz apenas uma analogia. A imaginação no sujeito fica reduzida a uma câmara de eco da imaginação do “Outro” – sendo esse outro, evidentemente, o capital. O sonho do sujeito é invariavelmente o sonho que o capital determina que ele sonhe. E apenas para não deixar incompleta a minha analogia, acrescento que também na linguagem é assim. O sujeito fala a língua do “Outro”, posta pela norma linguística. Se não for por aí, não será entendido. Ponha agora o capital como o dono da língua e de toda a linguagem e você entenderá o que se passou com a imaginação dominada e com o espírito que dela foi expulso.
Em fevereiro de 2025, pudemos ver uma cena que resume um pouco dessa história. O filhinho de Elon Musk, de nome X Æ A-Xii, de 4 anos de idade, sentou-se no colo do pai, durante uma entrevista, e declarou: “nós somos donos da Space X e podemos fazer tudo o que quisermos”. Em seguida, caiu na gargalhada. O pai gargalhou junto.
O bilionário Musk, o homem mais rico do mundo, que exerce, desde o primeiro dia do segundo governo de Donald Trump, a função central de comandar o corte de gastos do Estado, representa precisamente esse “Outro”, o sujeito automático do capital, que desfruta da regalia de fazer tudo o que bem entender. Musk e seu filhinho são ídolos de ouro, que fascinam e regem.
A essa altura, eu me dou conta de que já escrevi demasiadamente para o que deveria ser apenas uma sinopse. Escrevi tudo isso e ainda não toquei no tema do entretenimento, palavra que, afinal, consta do título que dei para a minha contribuição ao ciclo deste ano. Passo imediatamente a isso.
Por que entretenimento? A resposta é simples. O código fonte do Imaginário Superindustrial é o entretenimento. Isso significa que os padrões de linguagem pelos quais as massas se deixam manipular vêm do entretenimento, muito mais do que do jornalismo, da religião, da ciência, do direito ou da política. O discurso político, ele mesmo, tende a se articular como subcampo das diversões públicas, o que significa, em termos estritos, que a política não é mais política. Ela perdeu – ou vem perdendo, de modo consistente e persistente – sua condição de diálogo racional sobre os fatos com vistas à busca de soluções coletivamente negociadas, e vai se definindo mais e mais como um jogo sem imaginação, sem espírito e sem utopia, mas ainda assim um jogo eletrizante. Não surpreende, portanto, que o autoritarismo e a violência tenham encontrado abrigos tão luxuosos à sombra do poder.
Sobre isso, enfim, eu gostaria de falar na minha conferência.